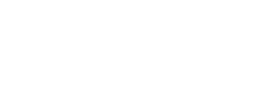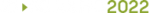A cultura do Brasil está impregnada de frases cristalizadas relacionadas à população africana e sua ascendência. Aforismos que estabelecem preconceitos como virtudes e presumidas deformidades que seriam inatas a esse segmento populacional, reproduzidas e propagadas irrefletidamente como verdades incontestáveis.
Esse constructo que alimenta complexo imaginário de estigmas sobre pessoas afro-diaspóricas tem certidão de nascimento datada de 1883, ano de fundação de pseudociências que corroboram uma certa missão à qual o homem branco ocidental outorgou-se: a de civilizar o mundo e, para isso, a de taxionomizar todas as coisas e todas as gentes.
Darwinismo ou evolucionismo sociais e frenologia são algumas das correntes que compunham o racismo científico que pretendiam ratificar a superioridade biológica e, logo, intelectual do grupo humano branco em detrimento dos demais. Valia-se de estudos de espécimes humanas para obtenção de provas que aferissem a inferioridade congênita e incontornável de segmentos não brancos. No caso de pessoas negras, porém de tez clara, anteriormente categorizadas como “mulatas”, “mestiças”, entre outras nomenclaturas que designavam a combinação indesejada de pessoas de grupos humanos distintos, pairava o fantasma de que essa miscelânea genealógica originaria multidões naturalmente degeneradas.
Portanto, além de analisar “cientificamente” os corpos de negros e negras, suas histórias, sociedades e culturas originárias, como se estivessem numa infância da humanidade ou num estágio inacabado, era mister a essa farsa empírica que se estudassem descendentes provenientes do encontro com brancos e brancas, a fim de mensurar as decomposições resultantes desse cruzamento.
A esse complexo de práticas que se almejavam cientificas chamamos eugenia, invenção do francês Francis Galton, que significa “bem-nascido”. Se devidamente aplicada, garantiria às nações que a aderissem uma geração futura geneticamente aperfeiçoada com a reprodução apenas dos melhores exemplares da raça humana, leia-se pessoas brancas. Para tanto, os governos, as legislações, as políticas públicas deveriam ser desenvolvidas em função desse projeto delirante, assegurando o controle social, moral e educacional, a fim de selecionar indivíduos superiores, que poderiam se reproduzir entre si, e inferiores, que seriam gradualmente eliminados.
É esse o contexto histórico no qual se desenvolve Traga-me a cabeça de Lima Barreto!, com texto de Luiz Marfuz, direção de Onisajé (Fernanda Julia) e vivido no palco por Hilton Cobra, da Cia dos Comuns, que personifica o jornalista e escritor Lima Barreto (1881-1922).
O enredo é uma ficção que se desenvolve considerando eventos reais e fantasiosos, com foco na biografia do escritor sopesando seus dilemas e tragédias pessoais, com destaque à sua ampla e original produção literária, à indiferença em relação ao reconhecimento e validação dessa obra, assim como de sua inventividade vanguardisticamente pautada por categorias como classe, raça e gênero.
No cenário da peça, chão e fundo possuem palavras-chave que nos subsidiam ao entendimento da substância tratada no espetáculo, escritas em branco sobre fundo branco. O telão exibe obras-primas das artes visuais que enaltecem corpos brancos conformados aos cânones da tradição clássica. Corporalidades idealizadas que se instituem através do tempo como padrão herdado dos gregos helênicos até o alvorecer da modernidade em obras como, por exemplo, A Idade do Bronze, de Auguste Rodin. O branco sobre branco do cenário é metáfora do arremedo narcísico do branco sobre branco do mundo ocidental.
Uma voz masculina em off promulga os trabalhos do I Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado em São Paulo em 1929, presidido pelo médico e eugenista Renato Kehl, sendo uma das propostas a de investigação da capacidade intelectual do cérebro de Lima Barreto. Segundo o cientificismo racial, ele configurava um caso peculiar passível de estudo.
O seu cérebro, portanto, é requisitado e retirado da cabeça-cabaça que existe sobre um pedestal numa das laterais do palco, e nos surpreende pela sua fatura em cauris, ou búzios, que simbolizam riqueza e nobreza se relacionamos esse elemento com seu emprego monetário e ornamental por parte da aristocracia de sociedades tradicionais de África Ocidental. Ou seja, um cérebro que preserva a sua herança etnicorracial e histórica como consciência da condição de existência do corpo de homem negro que o carrega.
Essa consciência de si, da proveniência de uma estirpe tida como marginal, transparece em cena nos momentos em que Hilton Cobra compartilha conosco episódios de racismo frontais vividos pelo escritor, como o cartão postal recebido por Lima Barreto no qual constava a imagem de um macaco, ou o episódio de revista corporal sofrido por ele em certa ocasião durante a travessia da barca Rio-Niterói.
A narração em off disseca o pensamento de Lima Barreto em relação aos pressupostos eugenistas a partir da exposição de sete questões que fundamentam a teoria, e que são explanadas ponto a ponto para o público, com a citação de excertos de textos de intelectuais brasileiros que a aderiram, como o caso já irrefutável do escritor racista Monteiro Lobato.
Algumas vezes, o Lima Barreto em cena aviva a quizila que persevera na comparação da sua genialidade à de Machado de Assis, exprimindo o desconforto sustentado pelos que rebaixam a sua em relação à de Machado. Temos aqui uma das inquietações que apoquentaram Lima Barreto durante sua vida.
Barreto ignorava que o sistema hegemônico não admite que duas pessoas negras ocupem posições semelhantes de prestígio social. A síndrome do negro único, como nomeamos esse cerceamento, seleciona entre nós aquele que melhor atende aos desígnios do projeto civilizacional ocidental.
Sendo ambos escritores pretos miscigenados, nessa ambiência, não poderiam ter suas intelectualidades equiparadas. A miscigenação em si se expunha como um obstáculo a ser superado ou assumido no projeto de civilização brasileira. De forma que Lima Barreto era visto como um intrigante caso de degeneração dissidente moral e socialmente, que, por motivos enigmáticos e contrários aos argumentos das pseudociências, sobressaia-se soberbamente intelectualmente.
É regozijante o composto de perplexidade e desconforto do público durante a encenação, porquanto que a grande maioria nos pareceu desconhecer os bastidores do surgimento de conceitos naturalizados já defasados, como o da democracia racial. Ao mesmo tempo em que presenciamos o declínio do estatuto de literários consagrados como é o caso do inventor da Dona Anastácia e do Tio Barnabé.
No espetáculo a plateia é arrebatada por emoções do assombro à empatia, pois lhe é desvendada uma intelectualidade medíocre e racista que arquiteta o extermínio da juventude negra via meandres perversos, e nos ludibria para que tal aniquilamento se assemelhe a uma fatalidade casual de ações de forças da segurança pública; do mesmo modo consterna-se com a interpretação de Hilton Cobra, que incorpora uma intimidade de alma ferida/ferina de Lima Barreto: acolhido pelo alcoolismo, embalado pela tristeza, acometido por sobressaltos materiais, rondado pela insanidade.
A pujança e sutileza se revezam na vitalidade da voz, do corpo, da técnica, do autoconhecimento, da poesia e do infortúnio vívido de Hilton Cobra, que transforma Lima Barreto numa aparição, num bakuru, os ancestrais divinizados segundo a cosmovisão banto. Se a Academia Brasileira de Letras manteve sua indiferença soberba ante o brilhantismo insurgente de Lima Barreto, contribuindo para uma série de episódios que o adoeceram física e mentalmente, nós, povo preto, o acolhemos como bem-lembrado que é.
Na nossa griotagem ele é imortal assim como será Conceição Evaristo e muitas das nossas gentes que ao letrarem-se na academia branca levaram consigo nossos modos de ser e de viver, de pensar e de escrever. Embora a excelência intelectual do povo preto seja incansavelmente alvejada por maquinismos de ofuscamento, de destruição que visam à extinção moral, cultural, social, física, psicológica e inventiva.
Traga-me a cabeça de Lima Barreto!, com a interpretação de Cobra, é aclamado pela audiência durante a apresentação! A obra implode a farsa da supremacia branca brasileira, que subsiste fincada em narrativas epistemicidas. A peça escancara que a branquitude enquanto sistema que sustenta o grupo hegemônico não está intelectualmente apta a, autoritariamente, instituir como devemos viver a sociedade sonhada por nossa ancestralidade.
Parafraseando Lima Barreto em Cemitério dos Vivos, romance inacabado que marca seu definhar no Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920, referência de Luiz Marfuz para a criação do texto juntamente com Diário Íntimo, publicado postumamente em 1953: “de nós para nós, temos certeza de que não somos loucas e loucos” por enfrentarmos os estratagemas do racismo científico, estrutural, habitual, e vislumbrar um Brasil sonhado pela nossa ancestralidade.
Saudamos hoje o bakuru Rubens Barbot! Somos 56,1% da população do Brasil com o cérebro cravado de búzios!
(Foto da capa: Victor Natureza)