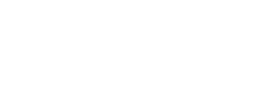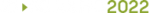“Antes de começar, coragem!”. É com essa frase, pronunciada quente, olho no olho, como uma senha, um desejo e uma oferenda, como palavra de ordem, preparação e grito de guerra, como encantamento que invoca a força e a ação (individual e coletiva) capazes de enfrentar/sobreviver ao mundo e ao teatro, é com essa pequena frase pronunciada com uma cumplicidade urgente pelas atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes, logo no início (antes do início?) da peça – e que permanece ressoando na memória e nos corpos, muito tempo depois –, é com ela que inicio esta crítica.
Coragem para começar o que já foi começado: Neste mundo louco, nesta noite brilhante começa muito antes dessa frase-dois pontos, recebendo o público que entra do Ginásio do Sesc Rio Preto com uma sequência de movimentações e treinamentos que vão desde exercícios de artes marciais até um rap que introduz a temática e o posicionamento do trabalho (“Você quer estuprar a terra alheia até secá-la? Mas não abuse!”). Coragem para começar o que já foi começado: Débora Falabella, Yara de Novaes, Silvia Gomez, Gabriel Fontes Paiva e todas as pessoas da equipe se engajam em uma situação e uma luta que se já arrastam por séculos: a luta contra a cultura/prática do estupro, da violência sexual/psicológica/econômica/política contra mulheres, contra a cultura/prática da dominação autoritária masculina/patriarcal. Coragem para começar o já começado: materializar essa luta dentro do teatro, nesse bom e velho teatro contemporâneo, manejando suas ferramentas, seu vocabulário, suas histórias e seus contextos, seus convites possíveis para com a plateia, suas limitações e suas potencialidades estéticas e sociais.
Escrevo esta crítica como quem percebe/sente as vivências e as sutilezas dessa luta e desse espetáculo de longe/fora – com minha voz localizada neste corpo-subjetividade cismasculino, branco, hétero etc –, o que, de certa forma, limita e especifica o meu ponto de vista/relação; mas também escrevo como quem, ao mesmo tempo, se reconhece como parte intrínseca e problemática do processo histórico-estrutural elaborado pela peça, e que, por isso mesmo, deve se manter atento e interessado, exercitando uma escuta fina das vozes/ações que ali se contam (tanto no palco como na plateia). A perplexidade desse aparente não-saber/não-sentir, aqui, é uma das portas de entrada no trabalho. Afinal, esse mundo louco é habitado e tensionado por todes nós.
Nesse começo-já-começado, o cenário da peça também se mostra ao público de imediato, inteiro e aberto, numa espécie de spoiler irônico de si mesmo. Com suas lâmpadas dispostas em diagonais, seu plano inclinado ao fundo e seu telão/suporte para projeções logo atrás, ele cria a simulação de uma pista de decolagem e aterrissagem, em um aeroporto qualquer. Com uma perspectiva clássica quase-alegórica criada pelas linhas formadas pelos objetos e desenhos sequenciais, o cenário é espaço pictórico que se avoluma e acolhe a movimentação das atrizes. Dinâmico, ele está em constante transformação, concreta e ficcional: ora pista de pouso, ora estrada rodoviária, ora tela de projeção e interação gráfica, ora plano abstrato onde se desvela a psicologia das personagens. As luzes sincronizadas também ajudam a conferir eloquência ao espaço – um não-lugar de passagem, de velocidade, de perigo, de delírio, de sobrevivência e de reflexão (e, em alguma instância, de salvação). Nas laterais visíveis do palco, a equipe técnica do espetáculo: operadores de som, luz e contrarregragem que são acionados pelas atrizes ao longo da apresentação, integrando e agindo direta e provocativamente na cena. Metalinguagem. A cenografia de André Cortez parece dizer, a todo momento, aquilo que é óbvio mas que precisa ser reafirmado (como tantas coisas óbvias que precisam ser ditas e reditas, dentro e fora do espetáculo): estamos no teatro, e é como teatro, pleno e ciente de si, que serão enfrentadas as questões que se colocam diante de nós.
E então, no prólogo, o medo. Ficção? Tarde da noite, no quilômetro 23 de uma rodovia obscura, uma mulher (Débora) é cercada por um grupo de homens e violentada por cada um deles, longa e repetidamente. A situação é testemunhada pela vigia do Km 23 (Yara) – munida com seu aparelho de rádio-transmissão, com o qual se comunica com uma operadora de voo anônima –, que assiste a tudo de longe e nada faz para impedir ou interromper o ato. Ela descreve a cena “em tempo real”, como uma espécie de narrador, de comentarista que, ao vocalizar as imagens assistidas, oscila entre o envolvimento empático e a indiferença frente ao sofrimento alheio. Em diversos momentos, encontra justificativas para o seu não-envolvimento, mesmo diante do horror e da revolta gerada por um (mais um, ainda mais um) estupro coletivo perpetrado no local que se dedica a observar. Diante de seus olhos, a violência se transforma em um espetáculo paradoxalmente atraente e repulsivo, corriqueiro e inaceitável, previsível e chocante, anônimo e pessoalizado, numa relação distantemente segura e perigosamente íntima. Como sentir e, principalmente, agir em uma situação como essa? Como superar o paradoxo da banalidade do horror e interromper o já-começado?
Lançada à frieza solitária do chão, Débora se debate em uma coreografia angustiada que estiliza e espacializa a sequência de agressões que sua personagem sofre, numa tentativa de representar o irrepresentável: a encenação da barbárie humana/masculina, a exposição estética de um ato hediondo de tortura e subjugação, a corporalização (em um corpo feminino cis branco) de toda uma história de dominação e normalização da violência em uma sociedade que tem o estupro e a desumanização de mulheres (e de outros corpos e subjetividades “dissidentes” e não-normativas) como um dos pilares do seu surgimento e desenvolvimento secular. Corpo-mulher-palpável que reage à ação de corpos-homens-invisíveis que a atacam como fantasmas, como seres incorpóreos e incapazes de qualquer afeição ou relação humana efetiva. A masculinidade (essa masculinidade normativa, hegemônica, tóxica e auto-tóxica) como ausência, como ameaça sem rosto e sem nome ou, ao contrário, como ameaça presente virtualmente em todos os rostos e em todos os nomes, como hiper-presença que prescinde da indicação de um autor específico, posto que sua autoria é coletiva e transcendente, perpetuando-se em tempos e contextos e corpos distintos. O prólogo se/nos indaga: como pode a cena reverberar tamanho medo e horror? Como pode a arte trabalhar tal dimensão radical, sem cair na frivolidade do espetáculo nem estacionar no choque da denúncia, remoendo o sofrimento ad infinitum?
Ver aquele corpo-Débora reagindo àqueles não-corpos masculinos brotou em mim diversos incômodos, diversas camadas de questionamento e auto-questionamento (ainda bem). Uma delas diz respeito à forma discursiva que enuncia frases como “a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil”. Para além da informação factual e da quantidade/frequência alarmante anunciada nessa frase, a voz passiva utilizada na conjugação do seu verbo parece deslocar sutilmente o protagonismo e, em especial, a responsabilidade da situação para a pessoa que sofre (a mulher, cis e trans) e não para a pessoa que comete o sofrimento (o homem cis, em sua imensa maioria). Como se essas mulheres fossem estupradas por sabe-se lá quem ou o quê, por alguma força ou ser invisível e impalpável. Mas todes sabemos: elas são estupradas por homens, bem concretos e tangíveis. Talvez seja interessante e importante dizer e frisar que “a cada 11 minutos, um ou mais homens estupram uma mulher”. Afinal, o ônus da ação é (ou deveria ser) tão somente daquele que a perpetra. Se nós, homens cis, somos criados desde tempos imemoriais para sermos os protagonistas – da história, da sociedade, das nossas vidas e, frequentemente, da vida de outres –, então que sejamos e aceitemos sermos marcados como os protagonistas também daquilo que temos/fazemos de pior e de mais reprovável, das nossas mais terríveis e assustadoramente banais infâmias: o constrangimento, o silenciamento, o assédio, a violência, a violação, o assassinato. Para que sejamos mais ensinados e ensinemos desde o começo (desde o nosso não-começo, como indivíduos e como grupo) a nunca constranger, nem silenciar, nem assediar, muito menos sermos violentos, violadores e assassinos; para que, enfim, precisemos menos ensinar às mulheres e outres a se protegerem de nós.
A cena do prólogo, de certa maneira, mantém a voz passiva do enunciado e do verbo, mostrando/simulando a mulher sendo estuprada e não os homens estuprando. Evidentemente, as protagonistas do espetáculo são as duas (mais?) mulheres que ali atuam (ainda bem), e é compreensível a escolha da dramaturgia e da encenação ao colocar apenas o corpo feminino no foco da ação. Não se trata, aqui, de apontar um problema ou inconsistência do trabalho, pelo contrário: todas as cenas pós-prólogo mostram a necessidade e o poder do protagonismo feminino na superação dessa e de qualquer situação adversa, num elogio luminoso à solidariedade e à vida. A própria Débora, em uma cena bastante contundente, refuta a ânsia em fulanizar a autoria da agressão, em apontar números e nomes – se isso adiantasse, seria preciso então descrever as violências e nomear seus autores desde os deuses gregos até os artistas revelados pelo movimento Me Too, passando por praticamente todas as figuras masculinas da história hegemônica. Revoltada, vaticina “Anote aí: isso é como a guerra, não tem começo!”. Por outro lado, nada mais urgente do que nomear aqueles que atuam e agridem escondendo e protegendo o próprio nome, trazendo-os para a materialidade dos corpos e dos verbos; para que, de alguma maneira, essa subjetividade tóxica comece a ser revertida, para que essa guerra autofágica comece a ser interrompida. Para que possamos parar de apenas reagir e sobreviver e superar uma crença e uma prática – uma guerra – que não deveria nem ter começado.
A cena 01, “Um cérebro em chamas”, traz uma vigia-Yara que rompe sua distância e sua inércia seguras e se aproxima da mulher-Débora agredida e desamparada que jaz, machucada, no asfalto do seu caro Km 23. Dona de si e do espaço, Yara dirige a cena, cruzando os limites entre ficção e execução técnica: fala diretamente com o trio de operadores, pede luzes específicas, pede músicas para criar ou minimizar climas, e, movida pela preocupação com aquela mulher caída e com a possível volta de seus agressores, conduz a ação. Como abordar alguém que acabou de sofrer tamanha violência? Como ser fonte de apoio e confiança de alguém que acabou de ter destruída qualquer esperança na humanidade imediata e só quer ficar sozinha e longe de tudo e de todo esse horror? Como se aproximar de alguém que implora, cambaleante: “Vai embora! Me deixa dormir! Eu posso contar com você? Não me chame de querida!”? Complexa e contraditória, a vigia ainda pendula entre a vontade de ajudar e a necessidade de manter-se minimamente impessoal. Mesmo assim, a empatia e a identificação surgem como a liga que faltava para aquele encontro, e para todo o espetáculo: “Eu sei que você tá com medo, nesse mundo louco, nessa noite brilhante”. É importante saber, é importante dizer que se sabe.
O texto de Silvia Gomez aposta na verborragia e na agilidade frenética das frases e dos diálogos para dar conta de um corpo e um encontro e uma situação que escapa de qualquer palavra, de qualquer fixidez gramatical, de qualquer discurso lógico e corre solta como uma barragem que se rompe e inunda o mundo, como animal selvagem que esperneia e foge mata adentro, como um quadro surrealista que tenta captar em imagens-tinta as imagens-sonho do inconsciente, como um fluxo de consciência onde cada palavra cada frase é um aceno enviezado e desesperado por proteção e cura. Como verbalizar o trauma? Como traduzir em fala o que não pode ser completamente apreendido? O delírio parece ser, então, uma forma possível, uma estratégica discursiva e afetiva para escapar do horror da realidade objetiva e criar outros mundos menos hostis. O delírio e a alucinação, palavreados na verborragia da dramaturgia de Gomez e configurados na encenação de Gabriel Fontes Paiva, surgem como linha de força capaz de suportar e superar a dor (“essa dor é como existir demais, é como existir em excesso”), e seguir em frente, seguir a vida, criando vida.
Essa aposta é levada ao paroxismo nas cenas 02 (“A dor”) e 03 (“Uma canção impossível”), assumindo o desvio como saída e rota principal. Mesmo que esse desvio venha através de uma pílula sorrateiramente ministrada pela vigia à mulher que sofre, mesmo que essa rota passe por vídeos documentários de coelhos solicitados pela mulher que cuida “para a gente achar que o mundo é bom”, mesmo que essa aposta inclua uma irônica coleção de frases motivacionais projetadas no cenário, mesmo que essa saída venha na forma de um resgate por uma aeronave improvável – um quase deus ex machina que coroa uma espera infinita e um esforço hiper-humano por salvação. Duas (mais?) mulheres desconhecidas (?) que se unem e cooperam em prol da própria sobrevivência, da própria superação, enquanto sujeites desejantes, solidariamente desejantes e responsáveis pela própria redenção – no singular e no plural.
O ato II, com sua cena final, com seu ritmo convictamente ascendente, com seu clima envolvente e sua música de esperança e superação, conduz o espetáculo e a plateia a uma catarse intensa, e que reverbera por muito tempo após o fim da apresentação. E é nítido como tal catarse se efetiva mais intensamente nas mulheres presentes na audiência, e isso não é por acaso (ainda bem): é especialmente no corpo-memória das mulheres que o impacto de Neste mundo louco, nesta noite brilhante se revela e se faz poesia e mobilização. Saio do teatro quieto e atento a essas diferenças (à potência e à beleza da diferença), e repenso nesses começos-não-começos e nessas forças singulares e coletivas que o teatro pode convocar, mobilizando seu público de distintas e não menos importantes maneiras. Agora e para além. Ainda bem.
(Foto: Vivian Gradela)