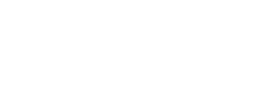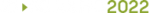Memória do Fogo
Quando me sentei nos bancos do Anfiteatro Nelson Castro, à beira da represa, na quinta-feira, dia 28/07, sentia na língua o amargo desgosto do luto. Nada relacionado ao FIT, que só me trouxe alegrias e belezas, além de encontros do teatro para a vida. Também não por um motivo pessoal, e nem cabe aqui dizer exatamente qual, mas, em suma, posso dizer que aquela minha sensação era por causa do cerceamento constante da nossa integridade enquanto trabalhadoras da cultura. Ao observar os carros com seus faróis passando na outra margem da represa, me dei conta de que ainda não tinha reparado neles. O reflexo de suas luzes compõe o cenário e a iluminação, emoldurando as apresentações a céu aberto, assim como o fazem os faróis a rebater a indaca das travestis trabalhadoras da noite nas pistas. Marcas indeléveis da exploração das corpas. Memória da nossa terra, tão rica, tão pulsante de vida, subjugada de tal forma pela boca de mil dentes do capital e da colonização.
Buraco da fechadura
Conta-se que Eduardo Galeano se perguntava sobre a possibilidade de contar a história do mundo olhando pelo buraco da fechadura. Sua escrita sintética, em capítulos curtos, buscava retratar, num painel épico e fantástico, poético-político, a longa saga dos povos latino-americanos em sua exuberância, fertilidade e resistência à sujeição e à exploração de suas gentes e riquezas. Sua trilogia Memória do Fogo e o livro As Veias Abertas da América Latina são bons exemplos da pesquisa de linguagem que articula a concisão à monumentalidade. Nesse mesmo enclave, percebo a peça Fuego Rojo, do coletivo chileno La Patogallina, inspirada na mencionada trilogia de Galeano, mais especificamente no primeiro livro: Os Nascimentos, em que se aborda o período da América pré-colombiana (antes mesmo de ser batizada com o nome do europeu Américo Vespúcio), passando pelo século XV, e chegando até o ano de 1700.
Festa-funeral pagã
No início da peça, as atrizes e atores entram em procissão fúnebre. Não sabemos de quem é o corpo e nem se é mesmo um enterro o que estamos presenciando, pois o caixão, ao invés de ir pra debaixo da terra, é ritualisticamente aberto e de dentro dele sai um esqueleto cujos ossos são malabares. Funeral? Exumação? Vinda dos mortos, que não são, como no rito cristão, lamentados e carpidos, mas celebrados em sua potência. O próprio esqueleto, com a caveira e os ossos manipulados por muitas mãos, é um todo composto de partes expostas, que, ao ganharem movimento, inspiram vida e desejo, e não pulsão de morte – como diz o coletivo, é uma festa-funeral pagã. O esqueleto tem carisma próprio, e vai dar o tom de todo o espetáculo de circo-teatro que, com graça, cores e desenvoltura nos envolve numa mirada anti-colonial da história de nossa terra, conhecida hoje pelo nome de América Latina.
Dramaturgia em cordilheiras de feitiços
Quando se fala em circo-teatro, é comum a crítica de que as habilidades corporais, acrobacias, pirâmides, números de tecido, lira etc. são exibicionistas e histriônicas. Não é o caso do La Patogallina, que constrói uma dramaturgia visual apurada, com momentos grandiosos e criação de alegorias por meio da composição dos corpos em cena, equilibrando-se, arremessando-se e performando coreografias em coletivo. Em determinado momento, o elenco realiza um dos maiores números de equilíbrio, materializando em cena uma cordilheira – nota-se, aí, o quanto a técnica circense está intrinsecamente aliada à semântica cênica do espetáculo e à história pré-colombiana narrada com inspiração em Galeano. O figurino, os adereços e os objetos de cena têm fundamental importância, são eles os responsáveis por instaurar o terreno de encantarias necessário à cosmovisão das tradições andinas. O fumo, a fumaça e o fogo nos convidam a compartilhar ritos de invocação dos antigos, reverenciar seus saberes e, por meio deles, embarcar numa revolução de valores.
Olhos de condor
O condor percorre o espaço cênico e nos transporta pro céu, vemos a nossa terra lá do alto junto com ele, tomando consciência da história fulgurante oculta pela versão oficiosa da história escrita. Regido por uma cosmovisão que reconcilia humano e natureza, Fuego Rojo é um desfrute imagético e sonoro – a criação e interpretação musical é de Alejandra Muñoz, que tem papel decisivo na composição da dramaturgia de cena. Saímos do espetáculo com a experiência sensorial a nos despertar sapiência: a pretensa humanidade universal; europeia, branca e cristã; devastou e devasta a mãe terra com voracidade.
A demarcação excludente dos limites de quem é sujeito e quem não é – incluindo todos os seres, não só os humanos – legitima duas catástrofes correndo em paralelo. A primeira é a depredação dos elementos naturais (florestas, mares, rios, montanhas, subsolo) pra alimentar o consumo desenfreado de mercadorias. A segunda, o extermínio de muitos povos, culturas e tradições milenares. Esse é o legado nefasto da colonização.
Uma das imagens mais ardentes de Fuego Rojo é quando o elenco manipula os bonecos de um touro, que carrega consigo vários significados agregados – um deles, me parece, é o de representar os colonizadores espanhóis. O boneco de um condor, ave símbolo do Chile, agarra-o pelo cangote e o carrega majestoso em seu voo. Metáfora de reparação histórica. Justiça poética. O coletivo La Patogallina nos convida a se alevantar contra a barbárie da colonização de nossa terra.
(Foto: Victor Natureza)