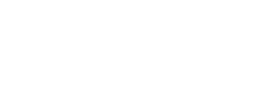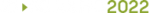Salgadas lágrimas seguimos engolindo enquanto houver crianças sem direito de viver a infância. Assentes no lume da imaginação, precisamos garantir que elas tenham asas próprias pra alçar seus voos, se guardar dos monstros, desfrutar confortos – além dos materiais, também abraços de afetos – não só nas horas tristes, mas também nas de ternura. Se essa casca desde miudinha ainda carece de se gastar pra criar a crosta que segurará os trancos noite após dia após madrugadas de imprecisão do mais básico: comida, moradia, saúde, amor – então ainda não estamos nem perto do que buscamos. Um mundo mais justo. Alegria mais perene.
Existem histórias que desafiam a capacidade humana de fabular, chão rachado no absurdo de intragável horror. E existem dramaturgas atentas, talentosas e sensíveis, que conseguem, além de captá-las no congestionamento de informações do nosso tempo, criar, a partir delas, obras incandescentes em beleza. Maria Shu é uma delas. Seu texto Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus, encenado pelo coletivo O Bonde (São Paulo), está entre aqueles que melhor articulam singularidade e representatividade, voz autoral e expressão coletiva: a peça é uma pedra preciosa de humanização, é partilha de poesia em compromisso ético com o público. A inspiração pra escrita veio da história real de um menino nascido na Costa do Marfim, encontrado aos 8 anos de idade dentro de uma mala no raio-x de um aeroporto na fronteira com a Europa.
O nome dele é Abu. “Je m’apelle Abou” é a frase que ele disse ao sair da mala, em 2015, e que ficou conhecida no mundo inteiro. Maria Shu a incorpora à dramaturgia, fundindo a apresentação do menino em primeira pessoa à da atriz e dos atores d’O Bonde, que representam, os quatro, o mesmo personagem. Ao lado de Shu, Ícaro Rodrigues, na direção, propõe uma aliança entre conteúdo e forma pra afirmar em cena a africanidade. As identidades e a ancestralidade negro-africanas estão presentes com força nas canções, no cenário, na dança e nas sonoridades, o que leva o espetáculo a um patamar elevado de proposta artístico-pedagógica. Quando eu morrer… fomenta encanto, consciência crítica e empoderamento tanto pras crianças quanto pros adultos que o assistem.
Poucas vezes vi uma parceria simbiótica tão generosa entre dramaturgia e direção, sem com isso sacrificar a identidade do grupo. Pelo contrário, ela é reforçada e potencializada. Como dramaturga que cresceu vendo peças de grupo, isso me toca profundamente – é uma criação solidária, firmemente fundada nos processos de colaboração das coletividades de teatro. Cito como exemplo duas imagens pulsantes do texto: a mala, batizada Ilê, e o baobá (“nem mesmo uma manada de elefantes vai destruir um baobá”, diz uma das frases finais da peça), incorporados pela cenografia de Eliseu Weide com singeleza e exuberância.
A pintura de fundo do cenário é a sombra de um baobá envolta por cores quentes, acolhedoras, que, além de criar uma paisagem, proporciona aos atores e à atriz dispositivos de ativação cênica e reinvenção do espaço. A pintura não é feita numa tela lisa, mas em uma composição de malas abertas. Quando fechadas, elas guardam consigo a paisagem, assim como Abu guarda a memória de sua terra. Parafraseando a frase do texto: “quem tem raízes não se esquece da sua terra”. O espelhamento entre o baobá e Abu é preparado pouco a pouco durante todo o espetáculo, com minúcias, até ele verbalizar em sua plenitude: “eu sou um baobá sagrado”. Protegido pela memória de seu lugar de origem, da sua família e de seus ancestrais, Abu lança mão da tecnologia milenar de sobrevivência: a ressignificação do imaginário. Por meio dele, sustenta-se pra atravessar a arrebentação e permanecer no horizonte de futuros.
A imigração de crianças, homens e mulheres africanas de diversos países em condições absolutamente precárias em busca de melhores condições de vida na Europa é uma crise humanitária gravíssima. Chama atenção que, em Quando eu morrer…, ela não está expressa na chave do lamento ou da rendição. E nem mesmo da dogmatização. Está aí a genialidade deste espetáculo, pois, por meio do devaneio, a denúncia amplifica seus canais de diálogo, e, assim, se potencializa. A dimensão pedagógica está indissociavelmente ligada ao poder imenso de imaginar das crianças, que observam as nuvens e veem nelas as formas de uma mulher de turbante com uma criança nas costas, ou um ovo de avestruz quebrado, ou de um cachorro. Essa é a chave pela qual conhecemos a relação de Abu com a mala dentro da qual viajará.
Ele, que, sempre, desde o começo, quis um cachorro, mas não pode tê-lo, pois, segundo seu Bàbá, não teriam comida pra dar pro bichinho. Foi assim que Abu ganhou a mala, e, imaginando-a como uma cachorra, a batizou de Ilê. Em iorubá, ilê significa casa. Bàbá significa pai e Iyá, mãe. Essas palavras, assim como as canções em iorubá, compõem o alicerce de africanidade que o espetáculo busca apresentar ao público. Elas não são exatamente traduzidas ou explicadas, mas é possível apreender seu significado pelo contexto de uso. Da mesma forma que temos que conviver com diversos idiomas latinos e anglo-saxões, também os vocábulos de uma língua tradicional africana ganham seu espaço na encenação d’O Bonde.
As cenas dialogadas de Abu com seu Bàbá e sua Iyá são construídas pela manipulação de bonecos lindíssimos, e, dialeticamente, revelam pouco a pouco os motivos que os levaram a imigrar. O corpo-narrador dos atores e da atriz nos faz ver o mundo por meio dos olhos de Abu e sentir o mundo de forma análoga à que ele sentiu. Manejando as diversas malas e objetos ressignificados no cenário, narrando as percepções do personagem sobre sua experiência de vida, o elenco pulsa em vitalidade, abrindo canais de comunicação direta com o público, por exemplo as cenas da Rádio Quebrada. Elas anunciam a camada documental de Quando eu morrer…, trazendo notícias sobre a situação dos refugiados africanos que tentam entrar na Europa. Como é tradicional em programas jornalísticos, as matérias têm seu momento de entrevistas, em que crianças e adultas do público são convidadas a participar ativamente da dramaturgia, respondendo se acham correto uma criança ter que passar pelo que Abu passou.
Há ainda outros elementos documentais no espetáculo, que, combinados à narração, fazem dele um marco épico-lúdico-dialético. Um dos exemplos é quando se interrompe o fluxo da história pra justapor a história de meninos e meninas negres do passado e do presente à de Abu. Crianças e jovens que foram sequestrados e escravizados, ou mortos por tiros disparados sem motivo pela polícia, ou tombados de prédios por negligência e desprezo de uma patroa, que, supostamente, estaria “cuidando” da criança. São casos reais, Agatha, João Vitor, Miguel, e muitos outros, nomes que circulam na mídia como “tragédias”, mas que, antes de tudo, são pessoas, vidas valiosas. Tristes tempos em que precisamos seguir relembrando isso cotidianamente. Salgadas lágrimas. Em Quando eu morrer… as vidas dessas crianças são lembradas numa cena concisa e decisiva. Dilacerante, e ainda assim pedagógica, sem perder a poesia. Uma homenagem. Um protesto. Fios de luto a nos envolver invisíveis. E que se tornam luta.
Outro elemento documental utilizado na encenação, este sim um documento propriamente dito, é a foto do Abou real, tirada em 2015, que circulou muito em jornais e na internet. Ela é projetada por um retroprojetor, que fica o espetáculo inteiro esperando num cantinho do palco pra cumprir sua função. É a fronteira borrada entre teatro e vida, entre imaginário e realidade, entre o banal e o absurdo. Maria Shu, O Bonde e toda a equipe do espetáculo encararam fundo nos olhos do terror nosso de cada dia e o peitaram. Mas disso não fizeram uma tragédia, e não parecem estar interessados em devolver o terror ao público ou nele causar piedade. Somos convocades a ações diretas de enfrentamento ao racismo, e a aprender com Abu o poder da emancipação pelo imaginário. “Quando você domina o imaginar, você pode ser livre”, parafraseando o texto da peça.
A música em cena, performada por Ana Paula Marcelino e Anderson Sales, tem papel fundamental, e é poderosa protagonista. A dramaturgia sonora e musical não só impulsiona a atriz e os atores a alcançarem estados de presença aguerridos e fantásticos, como também nos magnetiza e nos engaja na ação cênica. Consubstanciamos a narrativa com a atriz, os atores e musicistas, chegando ao final admirando o horizonte de um mundo onde Abu pode viver resguardado e tranquilo com sua família. Nossas lágrimas, um dia elas secam, e, depois de assistir Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus, inundadas de motivos pra seguir em frente, aplaudimos o levante poético d’O Bonde. Um coletivo teatral preto com sede de falar e fazer arte, e que faz da sua pesquisa cênica poderoso estrondo de criatividade na trilha do bem viver. Já diz a frase de Maria Shu: “Adeus, planeta lágrima”.
(Foto: Marcos Madi)