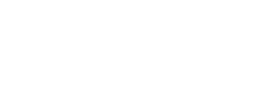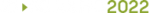O Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, é daqueles clássicos que sempre nos acompanham de diferentes formas, com diferentes linguagens, em diferentes mídias, em diferentes etapas da nossa vida. Em cada aparição, em cada repetição, uma nova camada se soma, uma nova perspectiva se abre, uma nova poesia se atravessa e assenta. Revisitar esses clássicos, como disse Rodrigo Mercadante, na mesa O que foge da literatura e nos serve no teatro?, é buscar o que ainda há por dizer, o que não pode ser dito nas visitas anteriores dessa história mas que pode ser dito agora, hoje. É ensaiar um outro dizer, um outro ouvir, um dizer/ouvir do agora, na embocadura do tempo presente, do artista presente (e do espectador presente). É vislumbrar, também, toda uma genealogia desse dizer/ouvir, dessas vozes bocas ouvidos corpos imaginações que retornam, e somar-se a elas. De certa forma, dizer o Dom Quixote hoje, em 2022, é dizer/ouvir a soma não-aritmética de todos os Dom Quixote ditos desde o lançamento, em 1605. E lá se vão (e lá se vêm) 417 anos.
Talvez seja por isso que Jorge Luis Borges, no conto Pierre Ménard, autor do Quixote, afirma ironicamente que o Quixote de Ménard, escrito séculos depois, é superior ao Quixote de Cervantes por conter em si não só todas as mesmas palavras, frases e pontuações do texto cervantino (no intuito de escrever não mais um Quixote, mas o Quixote, Ménard copia todas as palavras do Quixote “original”, nem uma letra a mais, nenhuma a menos), mas também toda a história da humanidade que existiu entre um e outro, incluindo nesse arcabouço a própria publicação do clássico espanhol, na Espanha do século XVII. Da mesma forma, é possível dizer – também com alguma ironia – que o espetáculo Dom Quixote, apresentado pela Cia Um de Teatro no Teatro do Sesi, ouve e (re)diz não só todas as versões literárias e teatrais do Quixote cervantino, como também todas as versões literárias e teatrais do cavaleiro andante, feitas “para crianças”. E isso não é pouca coisa.
Assim como não é pouca coisa a poesia delicada que a Cia Um constrói em cena, com seu cenário de painéis/paredes de pedra/páginas de livro que se deslocam pelo palco, palavras gráficas que ganham tridimensionalidade e vida no espaço falado. Ali está também uma cama alta, dessas de hospital antigo, onde um homem idoso se apoia. A cama também desliza e percorre as distâncias, livre e veloz: muitos quilômetros serão percorridos nessa jornada. O homem na cama veste um pijama antigo, bege, misto de ceroula com uniforme hospitalar. Barba e cabelos grisalhos revoltos, num inusitado topete, indicam que o tal homem é igualmente revolto e inusitado. Será? Ele fica em pé na cama e luta uma luta imaginária contra um inimigo invisível. Abaixo do colchão, o seu segredo e maior tesouro: livros, livros e mais livros empilham-se e formam uma base sutil mas sólida, propícia aos devaneios e aventuras que acontecem logo acima, no espaço lúdico e maleável da imaginação.
“Eu não sou de resistir. Eu sou de reexistir”, diz o homem, para então se indagar: “O que é a vida? Uma ilusão? Uma sombra? Uma ficção?”. Está dada a chave para a fruição e compreensão da fábula contada pelo espetáculo: a diluição (ou melhor, a maleabilidade poética) da fronteira entre vida e ficção, entre vida e ilusão, entre vida e arte. Inúmeras referências literárias são acionadas ao longo dos diálogos, complexificando a leitura do enredo, mas sem exigir da plateia o conhecimento prévio de todas elas. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não perde nada. A generosidade de uma obra que não se permite simplória, mas oferece múltiplas portas/camadas de entrada em seu universo, das mais imediatas às mais exigentes, sem hierarquias entre elas.
O homem dos cabelos e das ideias revoltas é Dom Quixote: paciente internado em uma instituição de saúde mental que lê o clássico de Cervantes e sai, tal qual o cavaleiro de La Mancha, em uma jornada – tão imaginária quanto real – em busca de aventuras e de um grande amor. Cavaleiro andante da imaginação andante, Quixote coloca as ideias, os afetos e o corpo em movimento, e vai. Junto com ele, o seu fiel escudeiro, o enfermeiro que cuida de sua saúde e vela por sua humanidade: Sancho Pança, com seu indefectível e desalinhado penteado e barba por fazer. Sancho topa todas as paradas, mesmo sem as compreender logicamente: “Você está entendendo, Sancho?”, pergunta o cavaleiro andante. “Nadinha!”, responde o risonho escudeiro, e continua o caminho com vontade. Está dada outra chave do espetáculo: a compreensão logocêntrica, a racionalidade normativa, não é suficiente para dar conta de toda potência da existência humana, em toda sua maravilhosidade poética e relacional. Quixote, o louco, sabe disso e vai. Sancho, o cuidador, também sabe disso e vai. E vão. E vivem.
A muleta-cavalo, o prato-chapéu, a vassoura-asno, a cama-carruagem, o tecido-água – elementos que transitam entre realidade e ficção e também vão. E também vivem. O espetáculo apresenta, então, uma sequência de aventuras com forte teor político, em toda sua sutileza. O encontro com pessoas escravizadas e seu algoz, o salvamento frustrado de um menino oprimido pelo trabalho infantil, a resistência da garçonete frente ao machismo de seus clientes, o confronto com o rei autoritário que interdita o devaneio. Nesse percurso, o encontro com Dulcineia é luminoso: a pedra que a mulher diz ter no lugar do peito acende-se de vermelho calor com o toque daquele que porta a coragem da imaginação, e se transforma. “Parece que eu tenho um cavalo dentro do peito”, diz a mulher maravilhada, antes de galopar junto com Quixote e Sancho. Dulcineia transborda o vermelho do peito para as roupas e dança, sapateado e palmas da plateia. Olé!
E é o encontro final com o rei – boneco gigante com cabeça imensa e corpo sem carne, suprassumo do intelectualismo e da razão estéril – que marca o final (ao menos, provisório) da aventura, das andanças daquele grupo de pessoas plenas de sonho e vida. O rei é a autoridade fria da realidade que corta a quentura da imaginação, e ruge: “Você é apenas um velho abandonado pela família, que vendeu tudo o que tinha para comprar livros!”. A magia se desfaz: Quixote volta ao seu pijama hospitalar, Dulcineia é retirada pelos enfermeiros, e Sancho ressurge como enfermeiro dedicado.
Quixote, trancado e abandonado pela família e pela coletividade em um hospital qualquer – como tantas pessoas idosas, doentes e/ou consideradas “fora das normas” de comportamento, em tantos hospitais e instituições Brasil afora – é o símbolo de uma sociedade triste e cruel, apartada da singeleza e da força vital da criatividade, da alegria, do amor. Quixote é um “inventado”, em toda sua ética e comprometimento, em todo seu acolhimento e vitalidade. Quixote, mesmo no escuro, sabe que cada um de nós é uma vela, de luz fraquinha e bruxuleante. Mas também sabe que, com a luz unida de bilhões de velas fraquinhas e bruxuleantes, “não tem bicho-papão que aguente tanta luz!”.
A Cia Um, em sua divertida e quixotesca andança pelo palco do Sesi São José do Rio Preto, conduz e traz para junto de si uma plateia imensa, formada por dezenas (centenas?) de crianças atentas e luminosas. Delicado e rigoroso, este Dom Quixote do século XXI emociona adultos, diverte crianças, e lembra a todes que sim, ainda há muito o que dizer/ouvir nessa aventura, nas embocaduras do presente. Ainda há muito o que poetar nessas palavras mágicas e nesses corpos ávidos. Ainda há muito o que viver.
(Foto da capa: Marcos Madi)