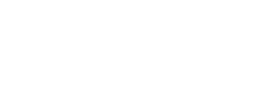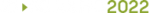A literatura é muito chata, é no corpo e na boca do ator que ela ganha vida – disse um provocativo e irônico Marcelino Freire, na mesa O que nos foge da literatura e nos serve no teatro?, dentro da programação do FIT Rio Preto 2022. Não por acaso, nesse mesmo festival, diversos espetáculos empenharam-se em dar vida-cena àquelas palavras chatas-papel mencionadas pelo escritor pernambucano. Um desses trabalhos é Vermelhinhos, da Companhia Hecatombe, de São José do Rio Preto, apresentado no Teatro do Sesi para um público formado especialmente por crianças, de diversas idades.
Criadas a partir do universo fictício-literário de Clarice Lispector – escritora brasileira nascida na Ucrânia, cujas palavras desafiam a provocação-chatice de Freire –, a dramaturgia de Homero Ferreira e a encenação de Linaldo Telles apresentam ao público uma cena repleta de palavras vivas-bem-vivas que ressoam daqueles corpos-elenco-bonecos e se dirigem, faceiras, aos corpinhos-corpões-plateia que ali se encontram e se divertem. No centro do palco, um grande armário cenográfico de madeira, ora armário, ora casa, ora empanada, ora tudo isso e outras coisas, de onde surgem e saem e entram atores, músicos, personagens, objetos, bonecos, animais e outras tantas coisas. No canto direito, mais perto da plateia, uma placa de sinalização antiga anuncia e localiza a ação-criação: “Aqui, a descoberta do mundo”.
Os primeiros a aparecer são Macabéa (Jaqueline Cardoso) e Olímpio (Ícaro Negroni), personagens do livro A hora da estrela, de Lispector, que assumem a função de músicos, violão e bateria, executando ao vivo a animada trilha sonora do espetáculo, que conquista a plateia em diversos momentos. Interessante ver aquela musicista mulher, soando vigorosa ao seu violão, em um contexto-instrumental tão marcadamente masculino. Ocupando o canto esquerdo do palco, Macabéa e Olímpio preparam e comentam a cena, abrindo espaço para o carrancudo policial Perseu (Luiz Perez), que faz sua ronda em seu veículo de rodinhas e exerce seu pequeno-poder repressor – “Que barulheira é essa na minha rua?” – e para Clarice (Clara Tremura), escritora libertária sempre às voltas com seus animais, convidados e não convidados, sempre em busca de sua galinha de estimação – “Vocês viram a Laurinha?” – e de sua máquina de escrever, ambas perdidas.
Embora permeável, há ali uma separação evidente entre quem são os protagonistas, personagens que ocupam o centro destacado do palco e desenvolvem a história em primeira pessoa e apresentam as suas próprias histórias – Clarice e Perseu –, e os coadjuvantes que habitam a periferia menos visível e dão suporte à história em terceira pessoa e de quem não se menciona a própria história – Macabéa e Olímpio. Tal geografia dramatúrgica e de cena revela, implicitamente, uma certa geopolítica problemática que, mesmo não intencional, acaba saltando aos olhos: os dois personagens à margem (do palco e da fábula) são nordestinos, com sotaque e figurinos semi-estereotipados, interpretados por uma atriz e um ator negros; os dois personagens no centro (do palco e da fábula), são sudestinos, com figurinos estilizados mas sem sotaque simulado (com exceção da galinha-caipira), interpretados por uma atriz e um ator brancos. No centro, os brancos; na margem, os negros. No centro, os sudestinos; na margem, os nordestinos. No centro, a palavra falada, ação e intelecto que enuncia a própria subjetividade; na margem, a palavra musicada, ação e corporalidade que embala o discurso do outro. Uma hierarquia sorrateira e desapercebida, mas que carrega em si um problema (simbólico e real) que não é do espetáculo, mas de toda uma sociedade. Como escapar das armadilhas de uma estrutura que a tudo/todes atravessa e contamina? Como reverter as sutilezas simbólicas-opressivas que acabamos reproduzindo, mesmo sem querer ou perceber, em nossas cenas declaradamente não opressivas?
Para além dessas questões, sempre intranquilas e inconclusas, Vermelhinhos é espetáculo-música-poema que, com sua dicção e seus gestos amplos e marcados, abre seus armários e revela um universo leve e lúdico, convidando o público a acompanhar o devaneio atento e criador daquela mulher livre que, ao ser o que é, acaba por transformar e humanizar o ceticismo duro e estéril daquele homem encarcerado e encarcerador. Ex-amigos que se reencontram, afastados e mudados pelos infinitos anos, mas que conservam uma cumplicidade derradeira capaz de reacender o afeto e fazer o mundo girar. Com sua lagartista-diva-do-teatro-de-revista, seu dilermano-cão-galã, seu periquito-livro, sua lisete – “desculpa, Perseu, mas se morre”, sua barata-mó-barato, seus peixes-vermelho-mortos, e tantos outros animais naturais ou não naturais, Vermelhinhos possui toda uma fauna rica e diversa, brincando viva e coloridamente para e com a plateia. Aqui, descobre-se o mundo.
O remorso de Clarice que, mesmo sem querer, matou seus peixes vermelhos ao esquecer de alimentá-los por três dias (havia ficado escrevendo e matando baratas), é aquele remorso antigo, mais ou menos inconfesso, que todes nós carregamos e que precisamos encarar e resolver para poder seguir. A percepção e o peso do impacto das nossas ações ou não-ações no mundo e nos seres que amamos. A responsabilidade intrínseca e recíproca que temos uns com es outres. A perplexidade diante da morte, real ou simbólica, evitável ou não – diante da morte que nos escapa e nos marca para sempre. Haja terapia, haja literatura, haja música, haja teatro para tanto espanto.
O perdão demandado por Clarice é a busca pela resolução desse remorso, desse espanto pesado que, com o passar do tempo, se transforma em tristeza, em desencanto, e interdita a vida. Clarice endereça seu pedido de perdão a Perseu, mas é ela mesma quem deve se perdoar e seguir. O perdão vocalizado por Perseu é somente o eco de um processo de (auto)descoberta que é de Clarice – sujeita de sua própria história, com todos seus cúmplices – e de ninguém mais. A banda que passa cantando coisas de amor, início e fim da história, é lembrete das passagens e das mudanças da vida: da vida de Clarice e, por extensão, da nossa.
Era uma vez, uma mulher. Era uma vez, dois peixes, vermelhinhos. Era uma vez, Homero, Linaldo, Clara, Luiz, Ícaro, Jaqueline, Alexandre, Ivani, Clarissa. Era uma vez, muitas pessoas, muitas plateias, e um espetáculo, Vermelhinhos.
(Foto: Milena Áurea)